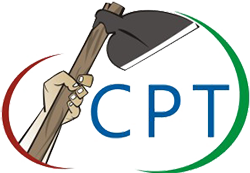Conflitos
 Em uma operação que contou com 180 homens das polícias Federal e Militar, cães, cavalos e helicóptero, oito indígenas Kaingang e três agricultores foram presos na manhã desta quarta-feira, 23, nos municípios de Sananduva e Cacique Doble, no Rio Grande do Sul. No final da madrugada, os Kaingang da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha foram surpreendidos pelo contingente.
Em uma operação que contou com 180 homens das polícias Federal e Militar, cães, cavalos e helicóptero, oito indígenas Kaingang e três agricultores foram presos na manhã desta quarta-feira, 23, nos municípios de Sananduva e Cacique Doble, no Rio Grande do Sul. No final da madrugada, os Kaingang da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha foram surpreendidos pelo contingente.
(Por Renato Santana e Tiago Miotto – Cimi | Imagem: Reprodução Internet/Cimi)
As prisões têm relação direta com o Estado de Calamidade Pública decretado no último domingo, 20, pelo vice-prefeito em exercício de Sananduva, Leovir Fidêncio Antunes Benedetti, horas depois de um incêndio ter destruído plantações de monocultivo de fazendeiros da região. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) acusou publicamente os Kaingang e os agricultores.
De acordo com os mandados da Polícia Federal, expedidos pela Justiça Estadual de Sananduva, os Kaingang e os agricultores são acusados pelos crimes de ameaça, extorsão, organização criminosa e dano ao patrimônio contra fazendeiros da região que se opõem de forma articulada contra a demarcação da Terra Indígenas Passo Grande do Rio Forquilha e que costumam punir pequenos agricultores próximos aos indígenas.
Mesmo sem provas concretas da relação dos indígenas e agricultores com o incêndio, ou com base em qualquer apuração e investigação pelos órgãos competentes, o vice-prefeito atendeu a Farsul e baixou o decreto. “Considerando que o clima tenso e hostil provocados pelos atos dos indígenas, beirando as vias do conflito, o que pode resultar em eminente risco à segurança e a vida dos envolvidos, bem como da população sananduvense”, diz um trecho do decreto.
Os hectares de monocultivo queimados pertencem aos fazendeiros que não permitiram a Fundação Nacional do Índio (Funai) realizar o trabalho envolvendo a demarcação da terra indígena, de acordo com as lideranças Kaingang. A Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha foi declarada, ou seja, teve o Relatório Circunstanciado publicado pelo Ministério da Justiça, em 25 de abril de 2011 e está na fase da demarcação física dos 1.916 hectares tradicionais.
"Os pequenos deixaram fazer. A mídia coloca que os colonos estão sendo ameaçados. É mentira. Dois foram presos com nossos parentes. Fazem reportagem sem saber como convivemos, como a gente pensa. Fiquemo sentido, porque a gente assume o que faz", afirma um Kaingang de Passo Grande do Rio Forquilha que prefere não se identificar temendo represálias da Polícia Federal.
Ação violenta e humilhante
Conforme os Kaingang, todas as casas foram reviradas pelos policiais. Os indígenas, levados para um Centro Comunitário, foram obrigados pelos policiais a deitar com o rosto para o chão. Crianças, mulheres e idosos não foram poupados. Os policiais levantavam a cabeça dos Kaingang para identificar os que deveriam sair dali sob custódia - oito acabaram na sede da Polícia Federal.
"Constatamos que havia mandados de prisão para seis Kaingang. Dessa forma, dois foram liberados. Entre os presos sem mandado estava uma mulher (a mãe do cacique). Ela relatou agressões, tapas no rosto e estava com escoriações nos braços e na cabeça. Afirmou ainda que o delegado da PF a chamou várias vezes de vagabunda", relata o coordenador do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Regional Sul, Roberto Liebgott.
Acompanhado de um advogado do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Liebgott esteve com os indígenas que prestaram depoimento. Os seis Kaingang e os três agricultores foram encaminhados para a Penitenciária de Lagoa Vermelha no final do dia. "Foi uma grande humilhação o que esses indígenas passaram. Montaram uma operação de guerra, foram truculentos e violentos. Tiraram todo mundo da aldeia, apreenderam equipamentos de subsistência como se fossem armas", pontua Liebgott.
"A polícia chegou atirando e mandou todo mundo ficar quieto. Inclusive mulheres grávidas, crianças pequenas. Botaram em cima de grama molhada de orvalho. Isso é crime. Digo isso como Kaingang. O que o delegado da PF falou vai ficar na mente da comunidade: disse que vai matar o cacique e um membro da comunidade", diz o Kaingang.
Perseguições
Ireni Franco Kaingang foi preso no sábado, 19, antes do incêndio. Seus dois filhos, entre eles o cacique da aldeia, estão com a prisão decretada. Os três são lideranças dos Kaingang da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha. Com os familiares e demais membros da comunidade, passaram anos vivendo às margens de uma rodovia. Muitos morreram ali mesmo, atropelados. Depois que ocuparam o território tradicional, em represália, passaram a viver sob a perseguição da Polícia Federal e dos fazendeiros.
A juíza Estadual Daniele Conceição Zorzi sustentou nos mandados de prisão que Ireni e os filhos agiram de forma "exclusivamente pessoal, praticando crimes comuns, ausente de interesses dos indígenas". No entanto, a defesa dos indígenas rechaça a tese de que os indígenas tenham cometido crimes. O procurador Federal da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Zeni, afirma que não há nenhum elemento que ateste a prática de crimes pelos indígenas.
"Pra gente Kaingang é tudo uma armação. Prenderam o Ireni sem dizer quando, como e onde ele cometeu algum crime. Depois aparece o incêndio e a mídia, a Farsul e a Prefeitura de Sananduva dizem que dissemos que íamos incendiar em retaliação ao que fizeram com o Ireni. Em Sananduva dizem até que vamos queimar tudo, matar gente. Tudo mentira", explica o Kaingang.
O coordenador do Cimi regional Sul, Roberto Liebgott, salienta: "Estamos diante de uma situação que, no mínimo, envolve conflito fundiário em terra indígena. A Justiça Estadual é incompetente para casos assim, sendo de exclusividade da Justiça Federal. Temos um conjunto de erros e arbitrariedades que caem sobre os Kaingang de forma a criminalizá-los mais uma vez no Rio Grande do Sul".
- Detalhes
 O maior desmatador da história recente da Amazônia é filho de um rico e tradicional pecuarista de São Paulo. Ele próprio operava sediado no bairro dos Jardins, na capital. Até ser preso, comandava um esquema sofisticado de desmatamento, grilagem e falsificação no Pará, que contava até com profissionais de geoprocessamento para enganar os satélites de monitoramento. Denunciado por índios, o caso levou a recente operação conjunta entre o IBAMA, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, revelando detalhes sobre como hoje se organiza o crime na expansão da fronteira agropecuária amazônica.
O maior desmatador da história recente da Amazônia é filho de um rico e tradicional pecuarista de São Paulo. Ele próprio operava sediado no bairro dos Jardins, na capital. Até ser preso, comandava um esquema sofisticado de desmatamento, grilagem e falsificação no Pará, que contava até com profissionais de geoprocessamento para enganar os satélites de monitoramento. Denunciado por índios, o caso levou a recente operação conjunta entre o IBAMA, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, revelando detalhes sobre como hoje se organiza o crime na expansão da fronteira agropecuária amazônica.
(Reportagem por Juliana Tinoco e fotos de Marcio Isensee e Sá | Fonte: O Eco)
Operação Kaypó
Era fevereiro de 2014. Luciano Evaristo, Diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, chegava na garagem da sede da instituição em Brasília e conseguia ouvir um burburinho alto vindo do escritório. Dentro de seu gabinete, pintados para guerra, mais de trinta índios kayapós esperavam por ele com arcos e flechas. Luciano teve o cuidado de pedir que depositassem as armas antes de começarem a conversa.
O Plano Básico Ambiental (PBA) do licenciamento da rodovia BR-163, que liga Cuiabá (MT) à Santarém (PA), dá aos kayapós da Terra Indígena Mekrãgnoti, o direito a receber recursos do governo para compensação de impactos decorrentes da obra. Em 2014, desconfianças do governo de que os índios estariam desmatando no entorno da Mekrãgnoti levou a retenção desta verba. Os índios não eram os culpados pelo desmatamento, mas eles sabiam quem era. Foram até Brasília a procura de Luciano Evaristo para denunciar um criminoso.
“A conversa foi dura”, relembra Luciano. Tão logo os kayapós se foram, ele tratou de levantar as imagens de satélite da região em busca das áreas alvo das denúncias. “Não achei nada nos satélites que indicasse operação de desmatamento em larga escala”. Ainda assim, resolveu confiar nos índios. Luciano desembarcou em Mekrãgnoti em abril de 2014. Lá, um grupo de lideranças kayapós se uniu à equipe de fiscalização do IBAMA. Usando um sistema de radioamadores para repassar informações entre si - sinal de telefone celular não pega - os índios já haviam mapeado a localização de acampamentos de desmatadores na floresta.
Encontraram 18 acampamentos. Somados, foram embargados 14 mil hectares. “A maior área já encontrada pelo IBAMA aberta por empreitada de um só infrator ambiental na floresta amazônica”, conta Luciano. A ação ficou conhecida como Operação Kayapó. Presos 40 trabalhadores, logo muitos começaram a falar. Um mesmo nome, então, se repetia. Começava aí a investigação que uniu instituições e resultou, pela primeira vez, na prisão de um chefão do crime operando na floresta.
O milionário das motosserras
O maior desmatador da história recente da Amazônia é filho de um pecuarista milionário de São Paulo. Antônio José Junqueira Vilela Filho – o AJJ Vilela, vulgo Jotinha, nasceu e cresceu em um império bovino montado pelo pai, Antônio José Junqueira Vilela. Junto com a família, Jotinha operava um esquema sofisticado que envolvia desmatamento em série, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro, falsificação e trabalho escravo no Pará.
"Em São Paulo, empresas de fachada serviam para que o grileiro movimentasse as altas quantias de dinheiro que iam para financiar a atividade ilegal de desmatamento, ou servir de crédito para atrair compradores das terras griladas"
O nome de Jotinha começou a circular pelas páginas de embargos do IBAMA no Pará nos idos de 2009, embora ligado a áreas desmatadas menores. Foi entre 2012 e 2014, revelam as investigações, que as motosserras de Vilela Filho trabalharam sem descanso. Ao serem presos, ele e seus parceiros acumulavam denúncias de destruição que somavam 30 mil hectares de floresta no município de Altamira (PA), área equivalente ao território de cidades como Fortaleza (CE) ou Belo Horizonte (MG).
A operação Rios Voadores, que prendeu a quadrilha, foi deflagrada em 30 de junho de 2016, após dois anos de quebras de sigilo bancário e interceptações telefônicas. No dia D, contou com um efetivo de 95 policiais federais, 15 auditores da Receita e 32 servidores do IBAMA, distribuídos pelos estados de Pará, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A Justiça Federal de Altamira expediu 52 medidas judiciais, entre 15 prisões preventivas e mandados de busca e apreensão.
Jotinha, primeiro considerado foragido, apresentou-se à justiça uma semana depois. Dias após a operação, escutas telefônicas interceptaram Ana Luiza Junqueira Vilela Viacava, irmã de Jotinha, que passava férias nos Estados Unidos, coordenando de longe a ocultação e destruição de provas contra o irmão. Ana Luiza foi presa ao desembarcar de viagem. Os três filhos de Antônio José Junqueira Vilela - Jotinha, Ana Luiza e Ana Paula - todos acusados de participar do esquema, são figurinhas fáceis da noite paulistana. A família circula entre celebridades e políticos. Na internet é possível achar menções a eles em colunas sociais, frequentando eventos exclusivos e recebendo vips para festas em mansões no bairro dos Jardins, de classe média alta em São Paulo. Ana Luiza leva o sobrenome Viacava do marido Ricardo. A família Viacava é de igual peso na história da pecuária brasileira e seus patriarcas são amigos de longa data. Ricardo Viacava, além de cunhado, era o braço direito de Jotinha na operação criminosa.
Vilela Filho é hoje o homem que recebeu o maior valor em multa aplicada a um só infrator ambiental – R$ 119,8 milhões, somadas em dez autos de infração referentes à Operação Rios Voadores. Ele é acusado de movimentar o equivalente a R$ 1,9 bilhão entre 2012 e 2015, em operações ilegais. Legou à sociedade, segundo os cálculos do IBAMA, um prejuízo ambiental estimado em R$ 420 milhões.
Raio-x de um crime exemplar
O esquema comandado por Vilela Filho chama a atenção pela sofisticação. A quadrilha tinha núcleos bem definidos. Em campo ficavam os agenciadores de mão-de-obra ilegal. A etapa de desmatamento era custosa. Eremilton Lima da Silva, vulgo Marabá, era um dos chamados “gatos”, responsável por arregimentar pessoas para trabalharem no campo. Ele aparece na investigação recebendo valores que superam 170 mil reais em nome de sua esposa, Laura Rosa Rodrigues de Souza. Os irmãos Jerônimo Braz Garcia e Bruno Garcia, sócios na empresa Jerônimo Máquinas, também faziam parte do esquema. Chegaram a receber 500 mil reais por um só serviço de “limpeza”, conforme consta no inquérito.
"Burlar a fiscalização envolvia núcleos ainda mais aprimorados de atuação. Profissionais de geoprocessamento trabalhavam de escritórios no Pará e no Mato Grosso analisando imagens de satélite."
As equipes nos acampamentos eram sempre de dez pessoas, com funções bem definidas – um cozinheiro, um ‘meloso’, responsável pela manutenção de motosserras, e oito motosseristas. Todos trabalhavam sem dias de folga e eram pagos apenas ao final do serviço. Caso o IBAMA os flagrasse, receberiam nada. Luciano nunca se esqueceu do primeiro acampamento que encontrou: “Chamou a atenção o trabalho escravo e degradante. Eu lembro que abri um balde que eles usavam para armazenar carne e o gás metano praticamente voou na minha cara, parecia que ia explodir. A carne estava podre”.
Os núcleos de desmatadores operavam em todas as fases do típico processo de abertura de floresta. Primeiro retiravam as árvores maiores e mais valiosas – o chamado corte seletivo. A venda ilegal de madeira era uma das atividades com a qual lucrava Jotinha. Na sequência, as áreas eram completamente desmatadas. Entravam em cena os tratores e “correntões”, cabos de aço que devastam em série. Em seguida vinha o fogo. Queimadas eram repetidas até que a área estivesse “limpa”.
Completo o ciclo de devastação, plantava-se capim, muitas vezes com o uso de aviões agrícolas. Por último chegava o boi. Dependendo da aptidão do local, algumas destas áreas eram vendidas ou arrendadas para terceiros, que iriam explorá-la mediante aluguel. Outras permaneciam em posse da quadrilha, em geral para criação de gado. O processo era otimizado: enquanto em algumas áreas a mata começava a ser derrubada, outras estavam em plena produção e umas tantas sendo vendidas ou arrendadas.
Em São Paulo, empresas de fachada serviam para que o grileiro movimentasse as altas quantias de dinheiro que iam para financiar a atividade ilegal de desmatamento, ou servir de crédito para atrair compradores das terras griladas. Entravam em cena as irmãs Ana Luiza e Ana Paula e o cunhado de Jotinha, Ricardo Viacava, que transferiam as quantias entre si e entre as empresas. A principal delas era a Sociedade Comercial AJJ, com sede na Alameda Santos, bairro dos Jardins, área rica e tradicional da cidade de São Paulo.
“O interessante deste caso é que, como existia muito dinheiro disponível para a operação, o desmatamento acontecia muito rápido. Era um programa bem organizado, para ser feito no mínimo de tempo possível e evitar a fiscalização ambiental”, conta Higor Pessoa, Procurador do Ministério Público Federal no Pará, responsável pelo caso.
Burlar a fiscalização envolvia núcleos ainda mais aprimorados de atuação. Profissionais de geoprocessamento trabalhavam de escritórios no Pará e no Mato Grosso analisando imagens de satélite. Eles acumulavam duas funções. A principal era a de forjar Cadastros Ambientais Rurais (CAR). O CAR é um cadastramento eletrônico instituído pelo governo que tem como objetivo auxiliar na gestão das florestas brasileiras dentro de áreas privadas. Na prática, o CAR é o primeiro cadastro obrigatório a todos os proprietários rurais do país, salvo as sucessivas prorrogações de prazo que enfrenta.
A quadrilha de Jotinha sabia ler o sinal dos tempos e, para facilitar a compra e venda de terras, matinha o CAR das áreas griladas em dia. O núcleo de geoprocessamento produzia o recorte perfeito dos perímetros abertos, que seriam cadastrados em nome de posseiros. Tomavam cuidado para que nenhuma área aparecesse ao satélite em sobreposição a outras anteriormente embargadas pelo IBAMA.
Vinha então o núcleo dos “laranjas”, pessoas que emprestavam o nome para constar nos cadastros ambientais declarados pela quadrilha. Apareceram como proprietários membros da família Vilela Junqueira, seus cúmplices e funcionários das empresas de fachada. Até mesmo o contador de Jotinha virou dono de fazenda. “Foi fácil chegar ao Vilela, ele deixava este tipo de rastro”, comenta Paulo Maués, coordenador da operação Rios Voadores pelo IBAMA.
Havia ainda função mais ousada para os homens por trás dos computadores: tentar enganar o olho do governo brasileiro. Para isso, recorriam às imagens de satélite usadas pelos agentes de fiscalização, as quais qualquer cidadão tem acesso, para analisar o próprio rastro e orquestrar a operação de desmatamento. Entre as táticas, deixar em pé árvores de porte alto, capazes de enganar os sensores dos satélites. O indicativo das queimadas era controlado de perto, para que nenhum fogo ficasse aparente. Procuravam agir em períodos nublados, quando os satélites são cegos pelas nuvens, para agirem incólumes.
 A sorte de Luciano Evaristo foi ter confiado nos índios.
A sorte de Luciano Evaristo foi ter confiado nos índios.
Crime e castigo
A certeza da impunidade é citada como o motivo que levou um jovem de família rica de São Paulo a se dedicar com tanto esmero a operar ilegalmente em plena Amazônia. “É uma questão cultural mesmo", diz Higor Pessoa. "O pai do Vilela Filho foi um grande desmatador e nunca aconteceu nada com ele. Mas eram outros tempos”, complementa o Procurador.
Atribui-se ao patriarca da família Junqueira Vilela, Antônio José, a visão de que seria uma raça de gado recém-chegada da Índia, o Nelore, que iria melhor se adaptar às condições brasileiras e representar o futuro do pecuária de corte do país. Ele acertou nesta e em outras empreitadas, como por exemplo a de melhoramento genético de bois, atividade a qual se dedica nos últimos anos com muito sucesso. Assim como não lhe faltou visão de negócio, tampouco careceu de terras para colocá-las em prática. Chegou ao então inóspito Mato Grosso no final da década de 1970, aos 20 anos de idade. A grilagem de terras para venda e a criação de boi na Amazônia foram suas principais atividades desde sempre. Com elas fez fortuna e fama no meio pecuário brasileiro.
A pecuária também estava no sangue de Jotinha. O grileiro sabia como usar as regras do jogo para driblar qualquer cerco. Graças a acordos de mercado, é mais difícil hoje para um frigorífico adquirir carne de gado criado em áreas embargadas. Difícil, mas longe de ser impossível. Prática comum, Jotinha lançava mão do chamado "esquentamento de boi" - vendia o gado como se fosse oriundo de fazendas regularizadas, usando o nome de terceiros. Entre os acusados de participar deste esquema está Eleotério Garcia, o Panquinha, que atuava como intermediário no processo fraudulento.
Outras movimentações, no entanto, eram menos cuidadosas. Ao menos um frigorífico, o Redentor, no Mato Grosso, teve profissionais autuados na operação por envolvimento na compra de gado de áreas sem procedência garantida. Estão ainda sob investigação os grupos Amaggi - do atual Ministro da Agricultura, Blairo Maggi -, Bom Futuro e a JBS, acusados de realizarem transações financeiras à quadrilha que somaram R$ 10 milhões entre 2012 e 2015. A JBS é signatária de acordos com o Ministério Público Federal e com o Greenpeace, no qual se compromete a rastrear toda a carne que adquire da Amazônia. A investigação sobre o envolvimento destas empresa ainda está em curso.
Graças ao trabalho conjunto com a Polícia, Receita e Ministério Público, foi possível acrescentar ao rol de crimes, além do ambiental, os de falsificação de documentos, formação de quadrilha e trabalho escravo. Esse conjunto propiciou a prisão de Jotinha. Crime de desmatamento, sozinho, literalmente não dá cadeia a ninguém. As penas em geral são baixas e, quando pego o desmatador em flagrante, sai mediante fiança. Jotinha, ele mesmo, provavelmente nunca encostou a lâmina de uma motosserra em um tronco. Quando muito, são pegos destruindo a floresta os trabalhadores pobres, vindos de municípios pequenos do Norte e trabalhando em condições análogas à escravidão. “Foi a primeira vez que eu vi uma ação conjunta desmembrar todo o aparato de um grileiro de uma só vez”, afirma Luciano Evaristo. "Esta operação descortinou como funciona a engrenagem do crime organizado no processo de ocupação da Amazônia", acrescenta Higor Pessoa. Ele garante que as investigações sobre o caso continuarão até pelo menos o final deste ano. "Ainda haverá mais denúncias", antecipa o Procurador.
Jotinha segue preso na Penitenciária do Tremembé, em São Paulo. Um inquérito que apura sua ligação com uma tentativa de assassinato, arquivado por falta de provas, pode ser reaberto. Ele é acusado de comandar uma emboscada contra a trabalhadora sem-terra Dezuíta Assis Ribeiro Chagas, em maio de 2015, na região do interior de São Paulo, conhecida como Pontal do Paranapanema.
- Detalhes

Um ano depois do desastre provocado pela barragem da Samarco, comunidades da região temem rompimento de outro reservatório e consequências do período chuvoso.
Por Thomas Bauer e Joka Madruga
A ameaça de um novo desastre ronda a população de Mariana (MG). Não bastasse a calamidade provocada pelo rompimento da barragem do Fundão, da Samarco (pertencente à Vale e à BHP Billiton), as comunidades da cidade e do entorno convivem com a iminência de uma nova tragédia. Um tremor de terra confirmado pela empresa no início do novembro aumentou a tensão sobre as condições estruturais da barragem de Germano, três vezes maior e que já apresenta sinais de rachadura. Não é só. Diante do período chuvoso que se iniciou nestes dias, o temor de muitos está aumentando. Ao longo de toda extensão do Rio Doce, os moradores convivem com a expectativa de que uma grande quantidade de lama, que continua acumulada entre a região de Mariana e a usina Candonga, possa se espalhar pelo leito.
Durante três semanas refizemos o caminho da lama para ouvir dezenas de relatos de pescadores(as), agricultores(as), moradores das cidades, ribeirinhos, bem como das autoridades responsáveis ao longo do Rio Doce. E pudemos conferir como o sentimento de temor e desconfiança está instalado na população local. Um ano depois do maior crime socioambiental da história do Brasil, as consequências do vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama permanecem bastante vívidas e presentes. Comunidades inteiras foram cobertas pelo dejeto contaminado e dezenove pessoas foram mortas. O rastro de destruição que se espalha ao longo do Rio Doce e deságua no Oceano Atlântico expõe as feridas abertas da irresponsabilidade pública e do descaso.
O que encontramos causou dor, angústia e revolta porque depois de um ano praticamente nada foi feito. As pessoas atingidas ainda continuam sem saber maiores detalhes sobre a qualidade da água e do solo, que foi coberto pela lama. Além disso, perderam sua fonte de renda ao longo de todo percurso. Pior, numa total inversão de papéis, as pessoas que sofreram danos irreparáveis até hoje estão lutando para serem reconhecidos como atingidos, cobrando seus direitos negados pela empresa.
Os moradores relatam ainda que funcionários da Samarco estão visitando as famílias de porta em porta para alertar sobre as possíveis enchentes deste ano. Fala-se em volumes de água como ocorreu na última maior enchente em 1979. Isso significa que a água misturada com o rejeito poderia subir ao mesmo nível da lama do ano passado, atingindo novamente as casas e toda região.
Veja a seguir alguns dos vídeos que retratam a situação que encontramos ao longo do vale do Rio Doce. Os depoimentos colhidos fazem parte da produção do projeto “Lama que mata” cuja primeira etapa se encerrou com a realização de uma exposição de fotografias na cidade de Mariana, em 5 de novembro. Em 2017, está previsto o retorno aos locais percorridos, com um documentário e uma exposição fotográfica. A iniciativa conta com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, da DKA Austria e de dioceses locais.
Confira mais informações na página do Projeto “Lama que mata”.
- Detalhes
 A pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), presidência do Incra realizou Audiência com movimentos sociais e órgãos públicos em busca de soluções para conflitos agrários em Rondônia. Foi encaminhada a criação de dois grupos executivos para buscar soluções técnicas e jurídicas nos casos mais conflituosos.
A pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), presidência do Incra realizou Audiência com movimentos sociais e órgãos públicos em busca de soluções para conflitos agrários em Rondônia. Foi encaminhada a criação de dois grupos executivos para buscar soluções técnicas e jurídicas nos casos mais conflituosos.
(Fonte/Imagem: Conselho Nacional dos Direitos Humanos)
Movimentos sociais e órgãos públicos federais e estaduais envolvidos com a questão agrária em Rondônia reuniram-se na manhã da última terça-feira (8), em Brasília, para discutir soluções para o quadro de violência no campo no estado, que vem ocasionando um alto número de ameaças e mortes de defensores de direitos humanos. A reunião foi articulada pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) que, por meio do Grupo de Trabalho Defensores de Direitos Humanos Ameaçados no Estado de Rondônia, realizou missão em Rondônia, em junho de 2016, e constatou o alto número de mortes de defensores de direitos humanos em decorrência de conflitos agrários.
De acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) Conflitos no Campo Brasil 2015, em 2015, de 50 mortes relacionadas a conflitos agrários no Brasil, 20 foram em Rondônia. “Até agora, em 2016, já foram mais de 18 mortes só em Rondônia. É inadmissível uma postura omissa do Estado brasileiro diante dessa realidade”, afirma o conselheiro do CNDH e integrante do Grupo de Trabalho Defensores de Direitos Humanos Ameaçados no Estado de Rondônia, Darci Frigo.
Um dos encaminhamentos da reunião foi a criação de um grupo executivo técnico, composto por representantes órgãos públicos ligados à questão agrária em Rondônia com o objetivo de encontrar soluções para os conflitos existentes, e de um grupo executivo jurídico, composto por diversos órgãos relacionados à pauta para propor soluções aos casos que tramitam no sistema de justiça.
Segundo o Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada do Incra, Júnior Fideles, os dois grupos executivos devem atuar nos processos que já existem e propor as providências a serem tomadas em cada caso, de forma articulada. “Já temos diagnósticos precisos sobre a situação de Rondônia. Agora vamos ter que atuar de forma articulada para resolver os casos mais conflituosos”, explica Fideles, citando a necessidade de inclusão de representantes do Instituto Terra Legal, da Consultoria Jurídica da Secretaria Especial de Agricultura Familiar, da Procuradoria Geral da União e da Procuradoria Geral Federal em suas diversas instâncias, além da Procuradoria Federal Especializada do Incra no grupo.
Para Darci Frigo, a reunião conseguiu colocar em diálogo órgãos públicos que têm responsabilidade sobre os problemas que estão acontecendo em Rondônia e não vinham dialogando de forma satisfatória para atender as demandas e denúncias que haviam sido encaminhadas. “Também foi articulada a ida destes órgãos e de diversas diretorias do Incra a Rondônia, para analisar a situação e constituir uma força tarefa para os diferentes casos relatados. Esperamos ter, muito em breve, providências concretas tomadas para a solução da questão apresentada aqui”, completa Frigo.
João Dutra, do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), pontua que as denúncias apresentadas na reunião não são recentes e que a velocidade do poder público em se organizar para conter o problema tem sido muito aquém do necessário. “Estes problemas vêm se arrastando há muito tempo. O número de ameaçados tem aumentado, o número de executados também. Esperamos que os encaminhamentos sejam de fato executados e que isso seja feito dentro da possibilidade de evitar novas mortes”, alerta Dutra. “E o importante desta reunião articulada pelo Conselho foi que, além de discutir os problemas dos conflitos agrários e ambientais de Rondônia, foram tirados encaminhamentos concretos, em que os órgãos assumiram compromisso de atuar em conjunto”, afirma o representante do MAB.
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Outro encaminhamento da audiência foi a inclusão da pauta da reunião em agenda do CNDH com a Presidência e a Corregedoria do CNJ, para tratar da temática dos direitos humanos no sistema de justiça. “É urgente a responsabilização penal dos autores de atos de violência, ameaças e mortes de defensores de direitos humanos em Rondônia. É um quadro realmente assustador e alarmante. Nosso pleito junto ao CNJ é que haja prioridade no processamento e julgamento destes casos”, enfatiza a presidente do CNDH, Ivana Farina.
- Detalhes
 No aniversário de um ano do crime da Samarco (Vale/BHP Billiton), aproximadamente mil pessoas realizaram ato político no distrito de Mariana (MG).
No aniversário de um ano do crime da Samarco (Vale/BHP Billiton), aproximadamente mil pessoas realizaram ato político no distrito de Mariana (MG).
(Por MAB | Foto: Yuri Barichivich/Greenpeace)
No sábado, 5 de novembro, data que marcou o primeiro ano do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, aproximadamente mil atingidos e apoiadores marcharam pelas ruas de Bento Rodrigues, distrito de Mariana (MG), em memória das vítimas, pela reparação dos danos causados à população e pela punição dos responsáveis pelo crime.
Organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), em parceria com a Arquidiocese de Mariana, a atividade fez parte da Jornada “1 Ano de Lama e Luta”, que percorreu todo o rastro dos rejeitos da Samarco (Vale/BHP Billiton), de Regência (ES) a Mariana, desde o dia 31 de outubro.
De acordo com Letícia de Oliveira, integrante da coordenação nacional do MAB, o ato político foi realizado como forma de sensibilização, mas também de denúncia à impunidade dos responsáveis pelo desastre. “O que estamos fazendo aqui hoje é um grito de denúncia a todo o mundo para não deixarmos que o maior desastre ambiental do Brasil seja esquecido. Já está mais do que provado que o rompimento de Fundão foi uma tragédia anunciada, ou seja, um crime. Por isso, exigimos a responsabilização dos culpados”, afirma.
Somos todos Rio Doce
“Estamos vivos e somos muitos”. Foi este o coro entoado durante uma mística em memória das pessoas mortas pelo rompimento de Fundão. “Vestidos” de lama, os artistas carregaram 21 cruzes em memória das pessoas mortas pelo rompimento.
Na mística, uma atriz encenou a dor de Priscila Monteiro, ex-moradora de Bento Rodrigues que sofreu um aborto forçado no meio da lama. “Na boca do mato, estamos vivos e somos muitos”, bradava a artista.
Também foi realizado um culto ecumênico, com a presença do padre Geraldo Martins, que rezou pelas vítimas e por seus familiares.
Justiça
O Greenpeace realizou, em parceria com o MAB, uma intervenção para cobrar a responsabilização dos culpados por este que é considerado o maior desastre socioambiental da história do Brasil.
Foi colocada a palavra “Justiça”, em cima da Escola Municipal Bento Rodrigues, completamente destruída com o rompimento de Fundão. Nos seus escombros, os atingidos entoaram o grito de ordem “Águas para a vida, não para a morte”.
SAIBA MAIS: Projeto “Lama que Mata"
- Detalhes
 Dezoito anos após o crime, o ruralista Marcos Menezes Prochet foi condenado a mais de 15 anos de prisão.
Dezoito anos após o crime, o ruralista Marcos Menezes Prochet foi condenado a mais de 15 anos de prisão.
(Por Franciele Petry Schramm e Riquieli Capitani, Brasil de Fato)
Mais de dezoito anos separam a morte do trabalhador rural sem-terra Sebastião Camargo e a condenação do assassino, o presidente da União Democrática Ruralista (UDR), Marcos Menezes Prochet. Após quase 15 horas de júri popular, realizado nesta segunda-feira (31), em Curitiba, Prochet foi condenado a 15 anos e 9 meses de prisão. O ruralista foi levado preso, mas pode recorrer da decisão.
O reconhecimento da atuação de fazendeiros nas mortes em conflitos agrários não costuma ser algo comum no cenário nacional – segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, apenas 6% dos casos que envolvem latifundiários são investigados. Essa foi a segunda vez que o ruralista foi julgado – e condenado – pelo crime. O primeiro júri popular, realizado em 2013, foi anulado em 2014. Marcos Prochet é o quarto condenado pelo assassinato do agricultor sem-terra.
Sebastião Camargo foi morto aos 65 anos, durante um despejo ilegal na Fazenda Boa Sorte, em Marilena, Noroeste do Paraná. Na época, a fazenda já estava em processo de desapropriação para ser destinada à reforma agrária.
Para o integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e coordenador da Terra de Direitos, Darci Frigo, a decisão é histórica. “É um dos poucos casos de condenação de grandes fazendeiros”, aponta. E indica que um longo caminho foi percorrido para chegar a esse resultado. “Foram vários adiamentos do júri, recomendações internacionais, acompanhamentos de instâncias como CDNH, muito trabalho de advogados popular e esperança da própria família para que houvesse justiça e não ficasse impune, como maioria dos casos no país”.
Os filhos
Dois dos três filhos de Marcos Prochet estavam na tribuna, atuando como advogados de defesa do pai. Na platéia estava um dos cinco filhos de Sebastião Camargo, Messias Ventura Camargo, - morador do assentamento Antônio Companheiro Tavares, em São Miguel do Iguaçu – que conseguiu carona para poder participar do julgamento.
Indignado com a fala da defesa do réu, Messias ficou em pé em um momento do julgamento. Ele marcou presença ao ouvir o filho de Prochet, advogado, falar que os fatos apresentados não seriam motivos suficientes para enviar o pai para a cadeia.
Questionado do porquê do ato, responde: “Ele falou que o pai dele não cometeu o crime e estava sendo julgado por nada, mas não foi assim: ele tirou uma vida”. Esposa de Messias, Maria Cristina Almeida completa: “Ele acabou com a família dos Camargo. Os filhos ficaram sem pai, sem estudar, tiveram que se virar como puderam. Os filhos dele [Prochet] estão aqui, formados, defendendo ele. E os filhos de Sebastião?”.
Messias participou do primeiro julgamento do presidente da UDR, e diz que, apesar da sensação ser ainda diferente, se sente muito feliz. “Achei que foi justo, que a lei foi cumprida. Até que enfim justiça para Sebastião Camargo”.
Na primeira vez em que o ruralista foi a júri popular, a esposa e outro filho do trabalhador sem-terra assassinado estiveram presentes. A viúva, no entanto, não chegou a ver o fim do processo. Morreu em julho de 2014.
Ataques à reforma agrária
A defesa de Marcos Prochet sustentou a tese de que a acusação contra o ruralista era de cunho ideológico, pois o mesmo integrava a UDR e combatia as ocupações de fazendas da região. Apesar da tentativa dos advogados de difamar a imagem do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ao utilizar materiais de origem duvidosa, a promotora de Justiça, Ticiane Santana Pereira, lembrou que, no júri, o réu não era o MST. “Não estaremos julgando a estrutura fundiária brasileira. Nós tivemos vítimas, e ela não é quem está sentado no banco dos réus”, aponta.
A defesa também tentou atribuir a culpa do crime a Jair Firmino Borracha, o “coxo”. Borracha já foi condenado, em 2011, pelo assassinato do sem-terra Eduardo Anghinoni, ocorrido em 1999. Prochet esteve no julgamento de Borracha e deu declarações ao jornal Folha de S. Paulo afirmando a inocência do pistoleiro.
O fazendeiro também chorou e disse que, por histórias pessoais, é contra o porte de armas e que desestimulava despejos ilegais. No entanto, declarações fornecidas a jornais da região na época mostram o contrário. Em um deles, ao comentar sobre os despejos ilegais que aconteciam nas proximidades, o ruralista declarou que “O único recurso que temos é a lei da selva, e os fazendeiros estão se armando para defenderem suas propriedades”.
A promotoria criticou a morosidade do processo, que dura quase 20 anos em razão de “manobras” que, inclusive, anulou o primeiro júri que condenou Prochet. “Vocês estão aqui porque muitas vezes quem se faz de vítima gozou de grandes privilégios, com a melhor defesa, de quem só tem dinheiro pode pagar”.
Os advogados Fernando Prioste e Claudemar Oliveira participaram como assistentes da acusação. Após exposição dos advogados da defesa, Prioste trouxe elementos que demonstraram as contradições de testemunhas do réu, que foram usadas como álibis para tentar provar que Marcos Prochet estava em diferentes compromissos no horário do crime e que não poderia ter participado do ataque. No entanto, os depoimentos apontam que o ruralista estaria em ao menos dois lugares diferentes no mesmo horário.
O julgamento foi presidido pelo juiz Thiago Flores Carvalho, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.
Entenda o caso
Sebastião Camargo foi morto aos 65 anos, durante um despejo ilegal realizado por uma milícia privada ligada à UDR. Segundo as testemunhas, cerca de 30 pistoleiros encapuzados participaram da ação, ocorrida no dia 7 de fevereiro de 1998, no município de Marilena, Noroeste do estado. Além do assassinato de Camargo, 17 pessoas, inclusive crianças, ficaram feridas. A ação aconteceu em seguida de um despejo na Fazenda Santo Ângelo, próxima à região.
Local do assassinato de Sebastião Camargo, a Fazendas Boa Sorte estava em processo de desapropriação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Já havia sido vistoriada, considerada improdutiva, e estava em processo de indenização dos proprietários. Dono da Fazenda Boa Sorte, Teissin Tina recebeu, posteriormente, cerca 1 milhão e 300 mil reais pela propriedade, área onde hoje está localizado o Assentamento Sebastião Camargo.
Seis pessoas viram a participação de Marcos Prochet na desocupação – quatro delas viram o momento em que Sebastião Camargo foi morto, e reconhecem o ruralista como autor do disparo.
Outras três pessoas já foram condenadas por participação no assassinato de Sebastião Camargo. Teissin Tina recebeu condenação de seis anos de prisão por homicídio simples; Osnir Sanches foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado e constituição de empresa de segurança privada, utilizada para recrutar jagunços e executar despejos ilegais. Augusto Barbosa da Costa, integrante da milícia privada, também foi condenado, mas recorreu da decisão.
Denunciado apenas em 2013, o ruralista Tarcísio Barbosa de Souza, presidente da Comissão Fundiária da Federação de Agricultura do Estado do Paraná – FAEP, ligada à Confederação Nacional da Agricultura (CNA), também responde pelo crime. O ruralista é ex-tesoureiro da União Democrática Ruralista (UDR) e ex-vereador em Paranavaí pelo partido Democratas (DEM).
O crime compõe o cenário de grande violência no campo vivido no período do governo Jaime Lerner no Paraná. De 1995 a 2002, 16 trabalhadores sem terra foram assassinados no estado. A ação de milícias armadas – organizadas a partir de uma empresa de segurança de fachada, contratada pela UDR – aparece como uma constante nas investigações dos despejos violentos e assassinatos por conflitos de terra. A maioria dos assassinatos ocorridos neste período teve participação dos grupos ilegais, inclusive no de Sebastião Camargo.
Investigações feitas pela polícia apontam que as milícias realizavam contrabando internacional de armas, tinha ramificações na Polícia Militar e atuava de forma a impedir investigações dos crimes cometidos, pois contava com a anuência de parlamentares brasileiros. Denúncias dos trabalhadores rurais apontaram para a existência de uma “Caveirão Rural”, veículo blindado de fabricação artesanal, semelhante ao utilizado pela polícia do Rio de Janeiro, utilizado pelos pistoleiros e latifundiários para despejos ilegais.
- Detalhes
- Famílias acampadas comemoram a conquista de mais um Assentamento na Cidade de Goiás
- Acampamentos em Anapu (PA) são incendiados e famílias perdem quase todos seus pertences
- Nota de repúdio: ilegalidades durante reintegração de posse em Campos Lindos (TO)
- Ministros do STJ defendem que movimento social não é organização criminosa