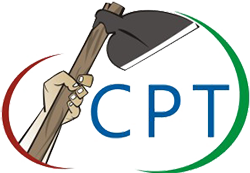Morte no Campo: Mais um trabalhador rural é vítima fatal da violência na região da AMACRO, em menos de um mês

Com informações da CPT Regional Acre
Edição: Carlos Henrique Silva (Comunicação CPT Nacional)
Imagens: registros da comunidade
Na manhã de hoje, 29 de Janeiro de 2025, foi encontrado morto um dos primeiros ocupantes da Ocupação Marielle Franco (antiga Fazenda Palotina): o senhor José Jacó Cosotle, 55 anos. Ocupante da área desde 2015, Jacozinho, como era conhecido, foi atingido por um tiro de espingarda debaixo do queixo, enquanto esperava um amigo para coletar castanhas. Ao lado do corpo da vítima, estava sua moto e a espingarda, provavelmente a mesma arma utilizada no crime.

Jacozinho, junto com outras pessoas da redondeza que moram na área da fazenda, costumam entrar na área de reserva do ICMBio para coletar castanhas, o que é permitido inclusive pelo órgão federal. Contudo, a região é palco de um sangrento conflito entre o pecuarista que alega ser dono das terras e as famílias de trabalhadores rurais ocupantes. Segundo relatos, houve inclusive a presença de segurança armada dentro da propriedade, para intimidar os posseiros.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) assegura que as terras teriam sido griladas, sendo devolutas da União, o que as torna com condições de destinação para reforma agrária.
Uma região de conflitos que se prolongam
O Sul do Amazonas é uma zona marcada por intensos conflitos. Em menos de 15 dias, foram 02 mortes por disputa de terra. No último dia 14 de janeiro, o trabalhador rural Francisco do Nascimento de Melo, conhecido como Cafu, foi assassinado a tiros por um fazendeiro, na zona rural do município de Boca do Acre (AM) - confira o link ao final da matéria.
A Amacro, região que abrange a divisa entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia, tem sido marcada por conflitos por terra e violência devido a grilagem e a expansão do agronegócio. A disputa por terra é constante. São inúmeros conflitos, ameaças, mortes e todos os tipos de violências.
Segundo dados do relatório Conflitos no Campo Brasil 2023, ao todo, foram registrados 200 conflitos na região, que abrange 32 municípios. No caso dos assassinatos, das 31 mortes no país, 8 foram nesta região, sendo 5 vítimas sem terra e 3 posseiros. Cinco (5) das mortes foram causadas por grileiros.
A comunidade Marielle Franco ocupa uma área de aproximadamente 50 mil hectares. Deste total, 200 famílias ocupam 20 mil hectares, na região que fica localizada no sul de Lábrea com acesso pelo Ramal do Garrafa (BR 317 – KM 93), Sentido Boca do Acre / Rio Branco. Durante todos esses anos, as famílias enfrentam vários tipos de violências por parte dos fazendeiros e até hoje, tem sido palco de disputa pela terra. De um lado, fazendeiros usam seus poderes econômicos e influências, enquanto do outro lado, as famílias tentam permanecer na terra, onde vivem.
Confira outras notícias já publicadas sobre esta região:
26/11/2019 – Reintegração de posse retira 160 famílias de seringal no sul do Amazonas
06/12/2019 – Reintegração de posse e violências no Seringal Novo Natal (AM)
01/04/2024 – CPT e movimentos sociais emitem Carta Conjunta diante da violência no Acampamento Mariele Franco (Lábrea/AM)
26/04/2024 – Integrante de comunidade do Sul do Amazonas tem prisão preventiva convertida em prisão domiciliar
- Detalhes
V Congresso Nacional da CPT acontece em julho de 2025, em São Luís (MA)
Em seu Ano Jubilar, Pastoral da Terra celebra 50 anos de serviço profético e caminhada junto aos povos e comunidades do campo, das águas e das florestas, com evento que pretende reunir centenas de trabalhadores camponeses, lideranças e agentes pastorais de todo o país

Entre os dias 21 e 25 de julho de 2025, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) se reunirá nacionalmente em Congresso, em São Luís, capital do Maranhão, quando celebrará seus 50 anos de missão profética e acompanhamento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo em seus processos de lutas e resistências. Animados e animadas pelo tema “CPT 50 anos - Presença, Resistência e Profecia” e o lema “Romper Cercas e Tecer Teias: A Terra a Deus Pertence! (cf. Lv 25)”, agentes da CPT, povos, comunidades e trabalhadores do campo, das águas e das florestas de todo o país, irão se encontrar para recordar a caminhada percorrida e projetar a que se apresenta para os próximos anos. Com os desafios, conquistas e aprendizagens, ao longo dessas cinco décadas de vida e luta, a CPT irá olhar para o futuro, com novos e velhos enfrentamentos que se colocam no caminho à frente.
Com as reflexões propostas a partir do tema e lema do V Congresso, a CPT irá trabalhar sobre a presença da Pastoral ao lado dos povos e comunidades tradicionais do país, colaborando com instrumentos para o fortalecimento do seu protagonismo. Ainda, a resistência insurgente dos povos diante das violências empreendidas pelos capitalistas do campo, levantando um grito de profecia, com a denúncia das injustiças e o anúncio do bem viver nas comunidades. A Pastoral propõe, também, refletir sobre as cercas, velhas e novas, a serem rompidas, e sobre as teias de resistências e possibilidades a serem tecidas coletivamente, rumo à Terra Sem Males.
Histórico
A Comissão Pastoral da Terra (CPT) surgiu no ano de 1975, no contexto do Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, e está vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A missão da Pastoral é ser uma presença solidária, profética, ecumênica, fraterna e afetiva, que presta um serviço educativo e transformador junto aos povos da terra e das águas, para estimular e reforçar seu protagonismo.
As comemorações dos 50 anos da CPT tiveram início com a abertura de seu Ano Jubilar, em junho de 2024, em Goiânia (GO). Desde então, a Pastoral tem se dedicado a trabalhar a caminhada rumo ao V Congresso, fazendo memória a trajetória de lutas e propondo reflexões sobre as perspectivas e desafios futuros. Neste sentido, a CPT produziu o Almanaque Tambor, um instrumento político-pedagógico para orientar e dar ritmo aos passos que peregrinam rumo à São Luís, em romaria ao V Congresso Nacional.
SERVIÇO
Assessoria de comunicação da CPT
- Detalhes

V Congresso Nacional da CPT acontece em julho de 2025, em São Luís (MA)
Em seu Ano Jubilar, Pastoral da Terra celebra 50 anos de serviço profético e caminhada junto aos povos e comunidades do campo, das águas e das florestas, com evento que pretende reunir centenas de trabalhadores camponeses, lideranças e agentes pastorais de todo o país

Entre os dias 21 e 25 de julho de 2025, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) se reunirá nacionalmente em Congresso, em São Luís, capital do Maranhão, quando celebrará seus 50 anos de missão profética e acompanhamento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo em seus processos de lutas e resistências. Animados e animadas pelo tema “CPT 50 anos - Presença, Resistência e Profecia” e o lema “Romper Cercas e Tecer Teias: A Terra a Deus Pertence! (cf. Lv 25)”, agentes da CPT, povos, comunidades e trabalhadores do campo, das águas e das florestas de todo o país, irão se encontrar para recordar a caminhada percorrida e projetar a que se apresenta para os próximos anos. Com os desafios, conquistas e aprendizagens, ao longo dessas cinco décadas de vida e luta, a CPT irá olhar para o futuro, com novos e velhos enfrentamentos que se colocam no caminho à frente.
Com as reflexões propostas a partir do tema e lema do V Congresso, a CPT irá trabalhar sobre a presença da Pastoral ao lado dos povos e comunidades tradicionais do país, colaborando com instrumentos para o fortalecimento do seu protagonismo. Ainda, a resistência insurgente dos povos diante das violências empreendidas pelos capitalistas do campo, levantando um grito de profecia, com a denúncia das injustiças e o anúncio do bem viver nas comunidades. A Pastoral propõe, também, refletir sobre as cercas, velhas e novas, a serem rompidas, e sobre as teias de resistências e possibilidades a serem tecidas coletivamente, rumo à Terra Sem Males.
Histórico
A Comissão Pastoral da Terra (CPT) surgiu no ano de 1975, no contexto do Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, e está vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A missão da Pastoral é ser uma presença solidária, profética, ecumênica, fraterna e afetiva, que presta um serviço educativo e transformador junto aos povos da terra e das águas, para estimular e reforçar seu protagonismo.
As comemorações dos 50 anos da CPT tiveram início com a abertura de seu Ano Jubilar, em junho de 2024, em Goiânia (GO). Desde então, a Pastoral tem se dedicado a trabalhar a caminhada rumo ao V Congresso, fazendo memória a trajetória de lutas e propondo reflexões sobre as perspectivas e desafios futuros. Neste sentido, a CPT produziu o Almanaque Tambor, um instrumento político-pedagógico para orientar e dar ritmo aos passos que peregrinam rumo à São Luís, em romaria ao V Congresso Nacional.
SERVIÇO
Assessoria de comunicação da CPT
- Detalhes
Como se fosse da família... ESCRAVIDÃO NÃO ACABOU. ABRA O OLHO!

Foto: João Ripper
Nos últimos 4 anos, o Brasil encontrou mais de 10 mil pessoas em condição análoga à de escravo, de norte a sul do país e de leste a oeste. Também nas mais variadas atividades: lavouras do agronegócio (5 mil, com destaque para cana: 1.370 e café: 1.050), construção civil e mineração (760, cada), desmatamento e pecuária (840), carvoaria (625), ou trabalho doméstico (132).
Desde 2021, voltamos à marca de 2.400 libertações anuais, um nível nunca alcançado desde 2014 (a média observada de 2014 a 2020 era de “apenas” 1.000 por ano). Destaque regional para Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, seguidos por Bahia, Mato Grosso do Sul e Piauí. Com um pouco menos de 2 mil, o número de pessoas resgatadas em 2024 sofreu impacto da paralisia da categoria dos Auditores Fiscais do Trabalho. No fim do ano, pela 1ª vez desde 2013, foi realizado concurso com abertura de 900 novas vagas de AFT, uma solução ainda parcial para o considerável déficit acumulado.
Hoje em dia, tem ainda empregador achando ‘natural’ manter alguém a seu serviço na condição de escravo. Para políticos renitentes e empregadores sem escrúpulo, trabalhador pobre, ou ‘aquele homem rude do campo’, não precisaria das benesses exigidas pela lei e pelos fiscais. Para essa gente, condição degradante seria o eterno normal.
Tem inclusive quem inventa descabida narrativa para justificar essa prática criminosa, alegando que a pessoa flagrada nessa condição e sob seu domínio, estaria ali ‘como se fosse da família’. Isso ouvimos em 2023 no caso vergonhoso da Sra. Sônia Maria de Jesus, empregada doméstica que seu patrão, Desembargador de Justiça em Florianópolis, SC, retomou para a sua residência e mantém isolada há 15 meses - até hoje! - mesmo depois de ela ter sido resgatada pela Fiscalização. Sônia permanece retida longe do convívio de sua família natural. Pior: gozando de foro privilegiado, o escravocrata recebeu para tanto a anuência de magistrados de Cortes superiores.

Sônia Maria de Jesus
Muitos aproveitadores estão lucrando com a miséria alheia. Empurrada pela precisão, muita gente busca desesperadamente um serviço, por pior que seja. Assim, para muitos, o trabalho escravo passa a ter cara de “normalidade”.
Se a gente não tiver coragem de denunciar tamanha violência, pode crescer o risco de que essas situações voltem à invisibilidade. Isso acontece em várias regiões, principalmente do norte do Brasil. Quem acredita que onde grassam grilagem, despejo, desmatamento ou mineração ilegal, não se tem também uso de trabalho escravo, em proporções que a fiscalização hoje não consegue alcançar?
Naturalizadas, a miséria, a ganância e a impunidade alimentam um ciclo perverso. Trabalho escravo é crime e tem tudo a ver com as demais violações de direitos: direito à terra, à educação de qualidade, à saúde e ambiente saudável. É notório: quatro em cada cinco pessoas escravizadas do século XXI são de cor parda ou preta. Por que será?
Nosso silêncio ou omissão acabam conspirando com essa situação lamentável. Ao contrário, quando abrimos o olho, denunciando a violência e exigindo as devidas políticas públicas, colaboramos com a eliminação do trabalho escravo.
2025 - Nos 30 anos da criação do Grupo Móvel de Fiscalização, a Comissão Pastoral da Terra celebra seu próprio jubileu: 50 anos de existência e compromisso com os povos da terra e suas causas, com destaque na erradicação do trabalho escravo. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, saudamos a firme atuação das/dos Auditores Fiscais do Trabalho e renovamos nosso compromisso de seguir firmes nessa luta. Compartilhem! #Sonialivre!
28 de janeiro de 2025, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo
CAMPANHA NACIONAL DE OLHO ABERTO PARA NÃO VIRAR ESCRAVO!
- Detalhes
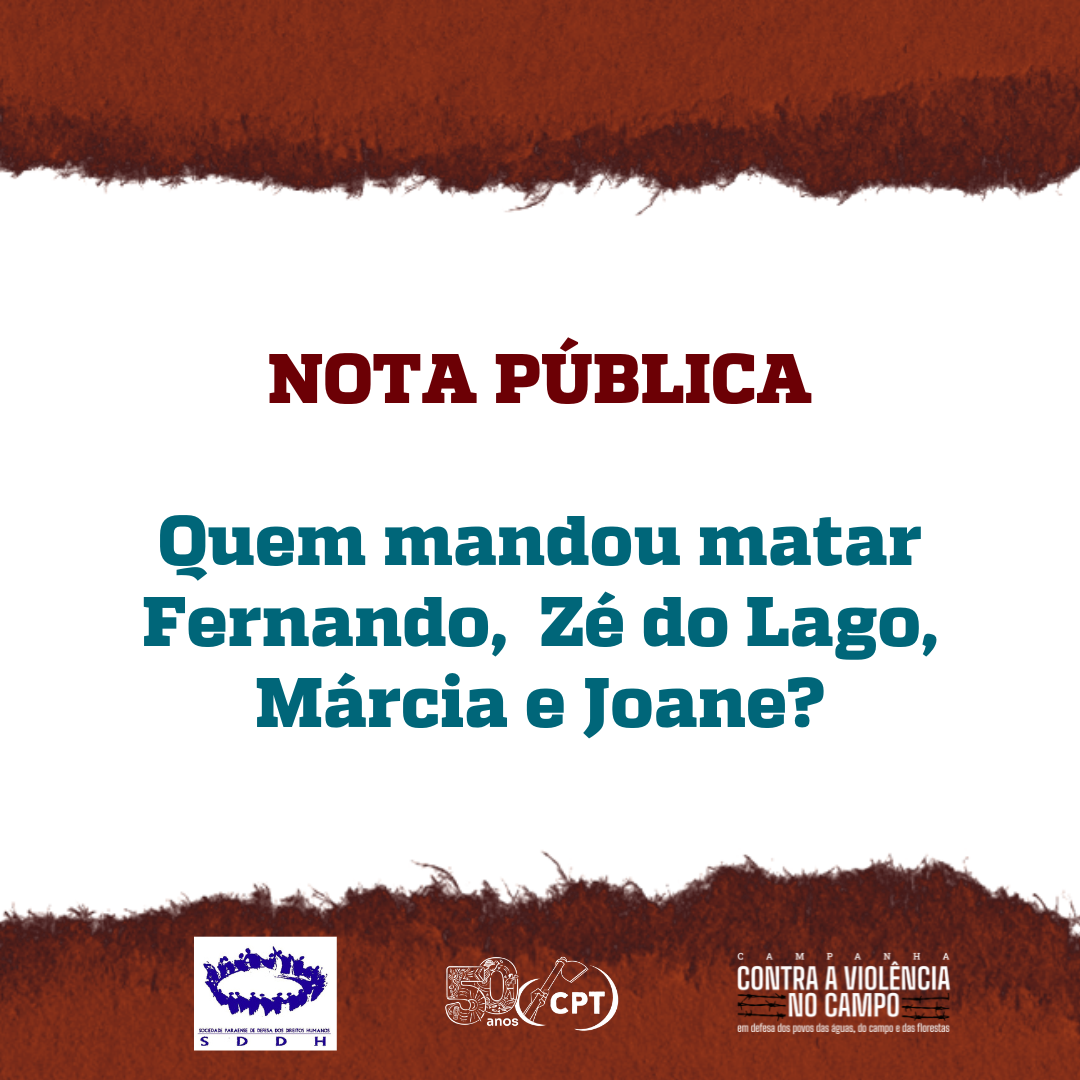
NOTA PÚBLICA: Quem mandou matar Fernando, Zé do Lago, Márcia e Joane?

Neste 26 de Janeiro de 2025, completam-se 04 anos do assassinato de Fernando Araújo dos Santos, ele que era a principal testemunha do Massacre de Pau D’arco, ocorrido em 24 de maio de 2017, no interior da Fazenda Santa Lúcia. Na ocasião, de forma covarde e cruel, policiais civis e militares do Estado do Pará perseguiram, torturaram e executaram 10 trabalhadores rurais (nove homens e uma mulher).
Fernando teria escapado após se fingir de morto embaixo do corpo de seu namorado, o qual foi uma das vítimas do massacre, por isso, ele narrava em seus depoimentos os detalhes de tudo que aconteceu naquele dia. Todos os seus depoimentos foram confirmados pelo Ministério Público do Estado do Pará.
O sonho de Fernando em viver da terra em que ele mesmo afirmava que “já havia sido paga com sangue”, fez com que ele retornasse ao seu lote no interior da ocupação, porém, as ameaças estavam se intensificando segundo ele, e por isso, na noite daquele dia 26 de janeiro, ele estava se preparando para deixar o local, quando então, foi atingido com um tiro na nuca nos fundos da sua casa.
Após onze meses de seu assassinato, as investigações foram encerradas, tendo sido identificado pela Polícia Civil apenas o executor do crime, Oziel Ferreira dos Santos, denunciado pelo Ministério Público em dezembro de 2021. Oziel, foi levado a júri popular na comarca de Redenção/PA, em 08 de agosto de 2024, tendo sido condenado a 14 anos de prisão pelo Tribunal do Júri.
No início de 2022, a requerimento da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), um novo procedimento para tentar sanar estas dúvidas foi reaberto pela Polícia Civil do Estado, a pedido do Ministério Público Estadual. Este procedimento corre há cerca de três anos na Delegacia de Homicídios da Capital, e apesar do transcorrer do tempo, ainda não foi concluído.
Também no mês de janeiro, fazemos memória ao assassinato de Zé do Lago e sua família. Em 09 de janeiro de 2022, foram assassinados, no município de São Félix do Xingu/PA, José Gomes - conhecido como Zé do Lago - de 61 anos; sua esposa, Márcia Nunes Lisboa, de 39 anos; e sua filha Joane Nunes Lisboa, de 17 anos. O fato ficou conhecido como Chacina de São Félix do Xingu.
José Gomes e sua família, residiam no local há mais de 20 anos, desenvolviam trabalhos de preservação da floresta e mantinha um projeto de reprodução de tartarugas. Eram conhecidos e reconhecidos pelo trabalho ambiental que faziam. A terra que era ocupada por eles, estava inserida na APA Triunfo do Xingu, uma área de preservação com mais de 1,5 milhão de hectares. Nos últimos anos, o desmatamento para exploração de madeira e criação extensiva do gado estava, e ainda está, avançando de forma descontrolada dentro da reserva, o que colocava em risco tanto a família de Zé do Lago, quanto outras pequenas propriedades.
Na época do assassinato da familia, várias reportagens foram publicadas sobre o caso, em que se apontava indícios de que as mortes estariam relacionadas a interesses de grandes proprietários de terras, cuja a a motivação dos mandantes das mortes seria se apropriarem, posteriormente, das terras ocupadas pela família do ambientalistas.
Os nomes de pecuaristas que exercem funções políticas em São Félix foram citados nas reportagens, mas não sabemos se foram investigados, já que por dois anos o inquérito do caso tramita sob segredo de justiça, ao que tudo indica com a intenção de proteger os culpados e impedir que a sociedade tivesse acesso às informações. O inquérito sobre o caso foi instaurado pela polícia civil, e no final de 2023, devolvido para o Ministério Público sem identificar os executores e os mandantes dos crimes.
Após 04 anos do assassinato de Fernando e 03 anos da Chacina da familia de Zé do Lago, autoridades de Segurança Pública do Estado do Pará, não foram capazes de responder às seguintes perguntas: QUEM SÃO OS MANDANTES DESTES ASSASSINATOS? QUAL O MOTIVO?
Nestes dois casos, executores e mandantes estão sendo beneficiados pela inoperância da polícia e pela conivência das autoridades de Segurança Pública do Estado do Pará.
Este mesmo Estado, que deixa sob o manto da impunidade os assassinatos de ambientalistas e Defensores de Direitos Humanos, se prepara para sediar a COP 30, que deve acontecer em novembro de 2025. O evento vai discutir a preservação do bioma amazônico e temas relacionados à preservação das florestas, porém, ao que tudo indica, não irá de discutir ou propor formas de se garantir, e acima de tudo, proteger a vida daqueles que lutam para manter a floresta intacta, a produção agroecológica, o combate a violência no campo e o acesso a terra.
Frente a situação exposta, é que as duas entidades que assinam esta nota, mais uma vez, solicitam às autoridades responsáveis e ao governo do Estado do Pará, agilidade na investigação e identificação e responsabilização criminal de mandantes e executores desses crimes.
Comissão Pastoral da Terra - Regional Pará
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos - SDDH
- Detalhes
Atividades educativas, artísticas e de prevenção marcam Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Programação das equipes regionais da CPT acontece entre os dias 27/01 e 11/02 reunindo exposições, exibições de filme e debates em diversos estados do país

A Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrada este ano entre os dias 27 e 31 de janeiro, reúne uma diversa programação de atividades educativas e de prevenção ao trabalho escravo por todo o país. O apanhado de ações das equipes regionais da Comissão Pastoral da Terra contempla seminários, debates, exposições fotográficas, exibição de filmes, panfletagem, entre outras atividades que visam a sensibilização da sociedade para esta mazela do nosso tempo.
A Semana Nacional marca o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro em memória da Chacina de Unaí, quando os auditores fiscais Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, além do motorista do Ministério do Trabalho Ailton Pereira de Oliveira, sofreram uma emboscada e foram assassinados. O grupo atuava em uma fiscalização na zona rural no município de Unaí (MG), investigando denúncias de exploração de trabalhadores.
Como parte da programação de atividades da Semana Nacional, os canais nacionais da CPT divulgarão uma série de vídeos com entrevistas exclusivas com agentes integrantes da Campanha Nacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo da Pastoral da Terra. A série pretende contar um pouco da história da Campanha da CPT e mostrar ao público suas formas de atuação. Com o lema “de olho aberto para não virar escravo”, a iniciativa da CPT atua desde 1997 convocando trabalhadores e trabalhadoras, igrejas, entidades e toda a sociedade civil para abrir o olho e, juntos e juntas, prevenir e combater essa chaga.
Confira, abaixo, a programação completa de atividades promovidas pelos regionais da CPT:
AMAZONAS
28/01 - Panfletagem, distribuição de materiais educativos e exposição fotográfica
Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida - Manaus
Horário: 8h às 15h
CEARÁ
27/01
Seminário: "Trabalho Escravo Contemporâneo: Desafios e Perspectivas para a sua Erradicação nos 30 anos do Grupo Móvel”
Data: 27 de janeiro de 2025.
Horário: 8h às 12h
Local: Auditório do MPT - Av. Almirante Barroso,466 - Praia de Iracema, Fortaleza


Palestrantes:
- Frei Xavier Plassat - Campanha Nacional de Olho aberto para não Virar Escravo e Membro CONATRAE;
- Maurício Krepsky Fagundes – Foi Chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE) e Auditor-Fiscal do Trabalho, vinculado à Secretaria de Inspeção do Trabalho;
- Dra. Christiane Nogueira – Procuradora do MPT;
- Sergio Carvalho – Auditor Fiscal do Trabalho – SRTE.
Webinar “Trabalho Escravo no Ceará e realidades dos municípios: Caminhos para a prevenção com políticas públicas implementadas e ações para o fortalecimento dos direitos humanos e erradicação do Trabalho Escravo”
Data: 27 de janeiro de 2025
Horário: 15h às 17h
Local: Online via plataforma digital
28/01
Roda de Conversa: "30 anos do combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil - Lições e perspectivas" com os agentes da CPT, RGPV e Profissionais da assistência Social
Data: 28 de janeiro de 2025
Horário: 8h30 às 12h
Local: Auditório da OAB-Sobral
Participantes:
- Frei Xavier Plassat - Campanha Nacional de Olho aberto para não Virar Escravo e Membro da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - CONATRAE.
- Igor Barreto de Menezes Pereira - Defensor Público do Estado do Ceará, membro da Rede um Grito pela Vida Núcleo SIT / Sobral, voluntário da CPT Sobral e Secretário Geral Adjunto da OAB-SOBRAL.
- Trabalhadores resgatados: Pacujá e Jijoca
29/01
Entrevista em Rádios de Sobral e Live em Blogs
Data: 29 de janeiro de 2025
Horário: 9h
Local: Praça São João
30/01
Visita a comunidade Quilombola de Batoque
Data: 30 de janeiro de 2025
Horário: 16h
Local: Comunidade Quilombola de Pacujá
PARÁ
Itupiranga
28/01- Entrevistas em rádios locais
31/01- 17h- Exibição do filme Pureza na praça da Juventude (manifestações públicas, exposição fotográfica, distribuição de materiais preventivos)
Marabá
30/01 Seminário com atores locais da região Sul e Sudeste, sobre trabalho escravo, das 8h00 às 19h00 no auditório da UNIFESSPA
Tucuruí
26/01- Panfletagem com distribuição de materiais preventivos na Praça Tucunaré, a partir das 17h;
28/01- Entrevista em rádio local.
28/01- Distribuição de material preventivo na rodoviária e feira do município, a partir das 8h.
Breu Branco
28/01- Panfletagem com distribuição de material preventivo na rodoviária do município, a partir das 8h
Oeiras do Pará-
25/01- Roda de conversa e distribuição de material preventivo com missionários das santas Missões Populares
Alto Xingu
28/01- Panfletagem com distribuição de materiais preventivos pontos de moto táxi, rodoviária, feira, etc.
Xinguara / PA
27/01 - Panfletagem na Rodoviária, Ponto de Táxi e arredores
TOCANTINS
28/01 - Blitz Educativa no posto da PRF , em Araguaína To - parceiros: Núcleo de agroecologia da UFNT e Casa da Capoeira;
29/01 - Panfletagem na rodoviária de Araguaína - parceiro: Casa da Capoeira;
30/01 - Formacao da juventude urbano - sobre trabalho escravo e trabalho informal - parceiro Casa da Capoeira.
01/02 - Panfletagem no mercado municipal de Araguaína - parceiro: Casa da Capoeira;
11/02 - Caminhada contra o trabalho escravo em Muricilandia TO - parceiros: comunidades quilombolas Dona Juscelina, Dona Luscelina, Cocalinho, Pé do morro e Santa Fé.
MATO GROSSO DO SUL
28/01 -Três Lagoas: Cine-debate com exibição do filme Pureza na Ocupação São João às 19h
31/01 - Campo Grande: Seminário da Coetrae/MS com participação e organização da CPT-MS
Seminário “Combate ao Trabalho Escravo no MS: Histórico, Desafios e Perspectivas”
Data: 31/01, das 14h às 17h
Local: Auditório do Ministério Público do Trabalho (MPT)
Rua Dr. Paulo Machado, 120 - Santa Fé (Campo Grande)
Inscrições: https://bit.ly/SeminarioCOETRAEMS
01/02 - Corumbá: Oficina e Cine-debate com exibição do filme Pureza no Assentamento Taquaral
02/02 - Corumbá: Panfletagem na Feira Central de Corumbá
MATO GROSSO
28/01 - Exibição do Filme Pureza
Local e horário: 19h (horário local) - Barracão da Igreja Católica
Porto Alegre do Norte (MT) - Equipe Araguaia / Regional CPT-MT
MINAS GERAIS
28/01 - LIVE: "Trabalho Escravo Hoje: Relatos e Reflexões para o Combate"
Horário: 18h às 19h
Assista ao vivo: https://www.youtube.com/channel/UCKemiHoXrNTpsepVU-2jvJQ
- Detalhes
- Alerta: Glifosato liberado para pulverização aérea no Maranhão!
- Justiça determina despejo de 115 famílias acampadas na Fazenda Mutamba, mesmo antes de recursos serem julgados
- Fórum Popular Socioambiental de Mato Grosso emite Nota Pública contra projeto de lei que altera áreas de transição da Amazônia para o Cerrado
- Campanha da Fraternidade 2025: conheça o tema, a identidade visual e a oração
- Nota de Pesar - Luiza Vasconcelos Camurça
Página 10 de 205