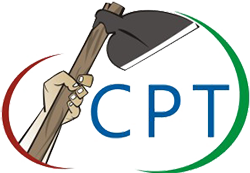Histórico de lutas sociais no Brasil nas últimas décadas se confunde com a vida do fundador da CPT e do Cimi, Dom Tomás Balduino. "Gustavo Gutierrez costumava dizer brincando: 'Se a Teologia da Libertação morreu, eu não fui convidado para o enterro.'[risos]. Nós não acreditamos nisso. A Teologia da Libertação, para mim, é teologia. É a única teologia em uma situação de opressão". Confira a entrevista na íntegra:
Histórico de lutas sociais no Brasil nas últimas décadas se confunde com a vida do fundador da CPT e do Cimi, Dom Tomás Balduino. "Gustavo Gutierrez costumava dizer brincando: 'Se a Teologia da Libertação morreu, eu não fui convidado para o enterro.'[risos]. Nós não acreditamos nisso. A Teologia da Libertação, para mim, é teologia. É a única teologia em uma situação de opressão". Confira a entrevista na íntegra:
Eduardo Sales de Lima, Brasil de Fato
Dom Tomás Balduíno completa, no dia 31 de dezembro, 90 anos de uma vida voltada aos pobres, aos “sem-nada”, como diz. “Sem-nada”, que na visão do Bispo, precisa ser compreendido como o “sujeito” de seu tempo, o agente transformador de sua realidade.
Influenciado desde a infância pela religiosidade de sua família, com a presença três tios padres diocesanos, o Bispo emérito de Goiás optou por ser frade pela Ordem do Dominicanos, demonstrando, desde a juventude, desapego a qualquer tipo de status social.
Testemunho ativo de um dos momentos mais obscuros da história brasileira, a ditadura civil-militar, Dom Tomás explica a proximidade entre os jovens dominicanos e Carlos Marighella e a pressão sofrida pela Igreja no período em que a ditadura tentava dizimar os guerrilheiros do Araguaia.
Sua trajetória se confunde com a própria história dos movimentos sociais e da luta política no Brasil. Expoente da Teologia da Libertação, enxerga tal proposta como um modo de analisar a própria “caminhada” de Deus em busca da libertação desde o êxodo até a ressurreição. Ao Brasil de Fato, ele conta um pouco da sua história.
Brasil de Fato – Dom Hélder Câmara, entre outros religiosos, antes de aderir à Teologia da Libertação, pertencia à ala mais conservadora da Igreja. E no seu caso, como ocorreu essa aproximação?
Dom Tomás – Eu tive uma trajetória diferente. Eu fiz o seminário com os dominicanos, em Uberaba (MG) e lá comecei o noviciado. Vim para São Paulo (SP) e encontrei um grupo de dominicanos chegado da França, com essas ideias. Depois vieram aquelas pregações de Frei Chico, lá em Perdizes [bairro da zona oeste de São Paulo]. Dessa maneira, o início de meu caminho, desde a minha juventude, foi um caminho de abertura. Eu tive chance também de estudar em Saint Maximin (Escola Teológica Dominicana), na França, de 1946 até 1950. Com a presença de Jacques Maritain (filósofo francês católico), tanto os dominicanos quanto os jesuítas. Isso me ajudou muito. Antes de voltar para o Brasil, eu tinha o sonho de trabalhar na área indígena. Mas fui encaminhado inicialmente para a faculdade. Lecionei na faculdade de Filosofia de Uberaba (MG), e depois fui para Juiz de Fora (MG), já em 1951.
O senhor vem de uma família religiosa?
Sim. Do lado materno eu tinha dois tios padres e do lado paterno um. Isso influenciou. Eles eram diocesanos e eu optei, nem sei por que cargas d’água, em ser frade. Houve muita oposição por elementos da família, porque meus tios eram diocesanos, ligados à família.
Com quantos anos o senhor descobriu sua vocação?
Isso nasceu comigo, parece. Quando criança eu “celebrava” missas, para a alegria e diversão do pessoal. Eu celebrava a missa com uma pedra de açúcar [risos] e imitava direitinho a fala em latim daquele tempo. E assim foi. Marcadamente um caminho religioso. Nunca tive assim um sobressalto de mudança, do que chamam de conversão. Talvez tenha sido até um defeito da minha trajetória.
Quando ocorre o Concílio Vaticano II (1962-1965), o senhor estava com 40 anos. Participou de alguma forma dele?
Eu participei através de minha ligação com Frei Romeu Dale, que era perito do Concílio. Ele tinha muita amizade comigo, foi meu professor. Depois eu fui prelado e ele insistiu para que eu fosse à última sessão. Não deu certo de eu ir. Tive que me preparar para ir ao Araguaia (da Prelazia de Santíssima Conceição do Araguaia, hoje Diocese de Marabá [PA]). Mas a gente estava muito informado do que estava acontecendo no Concílio, porque entre uma sessão e outra, ele ligava para casa. Ele morou no Rio e eu também. A gente debatia muitos temas.
Por que ocorreu o Concílio justamente naquele momento histórico?
Aquilo foi uma intuição do Papa [João XXIII]. Era para ser um papa de transição e os cardeais chegaram a um acordo de consenso para dar tempo para refletir. Mas ele, para a surpresa de todos, convocou o Concílio. A convocação do Concílio foi nitidamente uma abertura de visão de mundo.
Há quem diga que teria sido uma resposta à Reforma Protestante, 500 anos antes. O que o senhor acha?
O Concílio não teve nenhuma forma de, vamos dizer, “cruzada”. Pelo contrário. Queria abrir espaço, uma janela para outros cristãos de outras denominações. Foi pelo ecumenismo e se tornou um marco.
A sua Ordem dos Dominicanos abarca figuras com trajetórias extremamente distintas que vão desde Frei Betto a Tomás de Torquemada (o temível inquisidor). Como entender os dominicanos?
Eu e vários outros que comungam essa intuição de Domingos de Gusmão, temos como admiração o salto dado por ele. Um homem que saiu da clausura dos mosteiros para as cidades, para os burgos, as universidades. E ele vai para as missões. Internamente, outra coisa admirável é o sistema democrático da ordem. Os dominicanos sempre fizeram muita questão desse processo. Na ordem, se reúnem os capítulos. Os capítulos alternam-se entre os provinciais e os capítulos de não-provinciais. Há uns que são mais governistas, ligados ao trabalho interno, enquanto outros estão ligados a um trabalho mais amplo. Isso é um equilíbrio. Tanto que a ordem nunca teve cisão. É verdade que houve províncias mais fechadas que outras. Eu morei na França. A minha província era mais fechada, da estrita observância. Mas nós, brasileiros, engatamos com a província de Paris, que era aberta nos debates com o ecumenismo, com o operariado.
Nesse sentido, como o senhor enxerga o apoio dos dominicanos a Carlos Marighella?
Não são os dominicanos. Eles pertenciam à classe estudantil que começou ali na Juventude Universitária Católica (JUC) e na Juventude Estudantil Católica (JEC). E, depois, com muita coerência e muita lógica, se abriu para o social e para o político. A Ação Popular (AP), por exemplo, é uma decisão política de luta por enfrentamento à ditadura, e os dominicanos eram praticamente membros. Mas não era só uma expressão deles próprios. Não era mérito nem do Betto e nem de seus companheiros, como Fernando Britto, Tito e outros. Mas era porque eles estavam encarnados naquela realidade estudantil.
Até 1964 o senhor estava em Conceição do Araguaia. Quando ocorre a Guerrilha, a partir de 1972, o senhor não está mais lá?
Eu não participei de todo o processo. Foi o meu sucessor, Dom Estevão [Cardoso de Avellar].
Mas o senhor presenciou algum fato ligado diretamente à Guerrilha do Araguaia?
Nada. Mas quando eu estava na região, eles [guerrilheiros] já estavam por lá, trabalhando, fazendo serviços de médicos, dentistas, se entrosando com o povo.
E depois, quando o senhor foi substituído, chegou a tomar conhecimento de fatos por meio de Dom Estevão ou outros religiosos acerca da guerrilha?
Aí sim. Porque houve tensão entre os militares e os missionários. Um deles trabalhava na área indígena dos índios Suruí, dentro do território da Guerrilha. Os índios foram utilizados pelos militares como guias na mata. E depois, para mostrar quem era quem, abusavam dos índios de uma forma assim anti-ética, imoral, tentando incorporar as aldeias indígenas nesse serviço sujo.
Quais eram os missionários ligados à guerrilha?
O Frei Gil [Gomes Leitão] sempre foi um missionário naquela área. Ele que fez o primeiro contato com esses índios. Os índios não foram deslocados. O missionário chegou e fez amizades com eles. Foram várias tentativas e excursões para tentar o contato. Isso porque, quando os índios avistavam pessoas diferentes, fugiam. Frei Gil conseguiu. Os militares iam atrás dele, mas ele era muito esperto, se disfarçava bem. Certa vez, pediram a identidade dele, mas os missionários, os religiosos mudam de nome. E o nome dele, de identidade, é Dulce Leitão [risos]. Os militares o paravam, viam a identidade, e o descartavam. “Nós estamos atrás de um tal de Gil”. E aí, ele escapava.
Em 1972, o senhor foi um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Como foi esse processo?
Foi muito interessante. Os missionários já estavam muito tempo insatisfeitos com a estrutura das Prelazias, que estavam nas áreas indígenas, mas eram focadas em construções de igrejas, na expansão física. Havia uma busca de outro instrumento. Eles queriam uma prelazia de pessoas, como um território de pessoas. Eu fui consultado e respondi de uma maneira assim, jocosa. “Eu acho que esse prelado vai ficar isolado; e ele vai ser um prelado pelado” [risos]. Aí retiraram essa proposta. Porque prelazias são áreas pastorais confiadas como dioceses a uma congregação. Há a prelazia franciscana, a prelazia dominicana, dos padres jesuítas. Então criaram um instrumento sem mexer com essa estrutura e assim foi pensado no Conselho Indigenista, por meio de um encontro em Brasília.
Eu entrei puxado por D. Pedro Casaldáliga. Ele me disse que outros bispos estavam ali para resolver os problemas dos índios. E lá nasceu a criança, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Um conselho para cuidar da problemática indígena. E foi muito interessante, porque nós estávamos no pós-Medéllin [Conferência ocorrida em 1968], que fez uma opção pelos pobres, não considerando o pobre como objeto de nossa ação caritativa, mas como sujeito de sua própria caminhada. O Cimi nasceu sob essa inspiração. Houve muita tensão interna na equipe encarregada do Conselho, mas evoluiu no sentido de dar ao índio essa possibilidade de se afirmar como sujeito e ser protagonista, ter sua autonomia, sua terra, sua cultura. Havia missionários que andavam pelas prelazias e traziam informações para o Conselho. E numa dessas reuniões, um dos membros do Conselho, que era o padre Tomás Lisboa, um jesuíta, sugeriu a criação a assembleia de chefes indígenas. Por meio de nossa facilidade de diálogo com as lideranças das tribos, sugerimos esse encontro. Reunir gente que vivia em hostilidade, os Xavantes com Carajás, e isso foi o “ovo de colombo”. As assembleias aconteceram, os índios tinham momentos só deles, sem presença de missionários, de jornalista, de sociólogo ou antropólogo. E saíram dali com a seguinte decisão: primeiro recuperar nossa cultura; segundo, recuperar as nossas terras; terceiro, autonomia. Eles mesmos decidiram isso. Foi tudo registrado pelos cadernos do Cimi. E foi a partir dali que os indígenas começaram a caminhar com suas próprias pernas. Em muitas aldeias, os jovens missionários que estavam em outras regiões passaram a conviver com os índios e isso continua até hoje. Os Pataxós passaram a se tornar um povo antenado a toda a América Latina e não fechado neles mesmos.
E o processo de fundação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975? Que anos depois o senhor passou a ser presidente?
A CPT nasceu de um processo conflitivo. Os bispos estavam achando que os militares “estavam dando” em cima dos padres que acompanham os lavradores. Porque na proposta do golpe de 1964 estava, como prioridade, enfrentar os camponeses. Eles [militares] acompanhavam todos aqueles conflitos que estavam acontecendo. E achavam que, através de alguns lavradores, muitos camponeses entrariam no comunismo internacional. Então foram em cima dos lavradores mas também dos padres e freiras que só estavam acompanhando eles, por meio de um trabalho religioso. Aí o bispo se sensibilizou. Eles foram presos, ameaçados. Então nos reunimos e nasceu a Comissão Pastoral da Terra com uma proposta samaritana, de socorrer aqueles perseguidos [no caso, os religiosos], e mesmo os caídos, que eram os trabalhadores rurais. De imediato, a Pastoral da Terra foi cuidar de padres, freiras, e dos próprios lavradores.
Muitos dizem que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é filho da CPT, que surge como uma versão laica da CPT.
O nascimento é sempre complexo. Naquele livro Brava Gente, o [João Pedro] Stédile mostra que o processo é sempre complexo. Agora, não há dúvidas que era gente de origem das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), e também da CPT. Muitas pessoas faziam parte do trabalho da CPT e estavam engajados. Nesse sentido, a maternidade ou paternidade se dá como elementos que saem de uma igreja mais comprometida ilustrada sobretudo pelas CEBs.
Talvez o senhor tenha sido uma das vozes mais críticas, pela esquerda, do governo Lula. Como o senhor avalia os oito anos desse governo?
É complexo porque tem a compreensão da figura carismática e que até hoje é muito querida por pessoas da base. Às vezes, as próprias vítimas do processo não entendem as minhas críticas a ele, que tem a sua trajetória emblemática, do sertão nordestino até a presidência. O que chamou atenção no seu governo foi o fascínio pelo desenvolvimento econômico. Eu participei daquela marcha (dos movimentos sociais do campo, em 2005), num momento muito esclarecedor. Foi uma caminhada dos grupos sociais até Brasília. O Lula acabou aparecendo e comentou: “Quem é apressado come cru”. Logo depois houve aquele Plano Nacional da Reforma Agrária (PNRA). Teve até a participação na elaboração de gente como o Plínio de Arruda Sampaio. Tanto que por causa da demora de Lula, ele nem foi ministro. O programa veio, reduziram pela metade seus objetivos e foi-se esvaziando.
E em relação ao governo Dilma?
Em abril, todos os movimentos sociais foram para cima do governo, pressionando por posicionamento em relação à reforma agrária, à condição dos assentamentos, dos acampamentos. Chegaram a ocupar o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e várias outras instituições nessa linha de enfrentamento. Quer dizer, a Dilma pisou no freio da reforma agrária.
O que significa esse anel de tucum que o senhor usa?
Isso é o casamento com a causa indígena. Essa peça foi feita pelos índios Tapirapé e dá para ver como é bonito, ele brilha até. E a gente assumiu como uma ligação com a causa indígena, mas não só com essa causa, mas com toda a causa de mudança e de transformação com o povo em busca do Brasil que queremos.
Voltando à questão dos membros fundadores da Teologia da Libertação. Há alguns pensadores que estão indo, como o José Comblin (falecido em março de 2011). Além disso, Dom Pedro Casaldáliga está debilitado...
Mas ele está com a cabeça boa.
Claro. Mas qual perspectiva o senhor tem da Teologia da Libertação? E os novos pensadores?
Gustavo Gutierrez costumava dizer brincando: “Se a Teologia da Libertação morreu, eu não fui convidado para o enterro.”[risos]. Nós não acreditamos nisso. A Teologia da Libertação, para mim, é teologia. É a única teologia em uma situação de opressão.
Uma teologia, de fato, não morre?
Fica sempre. Teologia é um conhecimento de Deus, um mistério de Deus; da abertura de Deus aqui com os homens e as mulheres. Trata-se de uma teologia que vai analisar a caminhada de Deus e vai encontrar, o tempo todo a libertação. Desde o êxodo até a ressurreição é isso, é esse encontro. É a fundamentação teológica da linha da libertação. O fato de, por exemplo, [Karl] Marx ter ido por um caminho semelhante na análise sociológica não impede que haja Teologia da Libertação, até utilizando argumentos dele. Então, o pessoal se fechou achando que era outra coisa. Não é. Isso é muita estreiteza, inclusive no conhecimento de Deus.
Boa parte dos religiosos que levaram essa teologia adiante são estrangeiros. Europeus que vieram para a América Latina nos anos de 1960. Ou, como no seu caso ou de Leonardo Boff e Frei Betto, foram brasileiros que estudaram na Europa. O senhor acha que jovens seminaristas, estudando somente aqui no Brasil, caminharão nesse viés libertador?
Essa pergunta tem um quê de desvalorização da realidade acadêmica aqui no Brasil. O Boff estudou lá na Alemanha, num outro contexto, mas superou isso através dos mesmos instrumentos teológicos. Ele (Boff) padeceu. Hoje ele é dominicano. Foi o truque dele para se livrar do domínio do bispo diocesano, porque o padre diocesano é 100% do ensino religioso. E agora ele pode exercer a missão de teólogo dele de uma forma missionária. A gente não depende colonialisticamente do europeu. Foi um estímulo para ajudar no plano científico. Agora, nos conteúdos da América Latina, a meu ver, salvou o Concílio Vaticano II. Porque o Concílio foi uma abertura para o mundo. A verdadeira abertura evangélica para o mundo não é a abertura europeia, que é a abertura para o mundo dos ricos. A verdadeira abertura “conciliar”, evangélica, é a abertura dos pobres, onde existe o mundo subversivo. Medellín foi o salvador do Vaticano II, a meu ver, porque abriu, de fato, a Igreja para os “sem-nada”.
Nos últimos meses ocorreram essas manifestações contra a crise econômica, contra o capitalismo, contra os bancos. Nota-se essas mobilizações resgatam valores humanistas também. De que forma esse “espírito” da Teologia da Libertação dialoga com essas manifestações?
Houve um retrocesso no mundo. Uma tendência à direita é geral. O pessoal fala da Teoria do Pêndulo. Uma hora o pêndulo está na esquerda, outra hora ele está na direita. Então é surpreendente quando jovens estudantes, professores, da Europa e dos Estados Unidos fazem isso. Acho que é um campo para a Teologia da Libertação. Propício para uma reflexão com esse pessoal. Na medida do possível, porque ninguém quer ser mestre de ninguém, mas companheiro. E sobretudo a gente aprende. Ficamos surpresos. Por que aconteceu isso? Até a própria juventude alienada foi nessas manifestações.
Que mensagem o senhor nos deixa, talvez de motivação?
Acho importante isso. E está dentro da gente. E pode ser notada a partir, justamente, dos mais pobres entre os pobres. A gente está sabendo da situação dos pobres indígenas. Eles podem chorar na situação em que eles estão. Mas o que acontece? Alegria. Eles vivem a alegria e ninguém pode capturar isso de nós. Isso entre Kaiowa, Xukuru, Pataxó. Todos vivendo o maior sofrimento, maior sufoco, a maior angústia de não ter perspectiva e então; esse pessoal vive de alegria pela esperança. Eu acho que essa lição, a partir deles, deve ser um recado do senhor Jesus para todos nós.